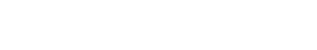“O ABC é indígena!”: Evento na UFABC marca o Mês dos Povos Indígenas
Com foco na população indígena vivendo em contexto urbano, o evento trouxe importantes lideranças do movimento indígena no ABC para discutir a situação e a realidade dessa população
- Data: 27/04/2023 20:04
- Alterado: 31/08/2023 14:08
- Autor: Redação
- Fonte: Secom-PMD
No último dia 19 de abril, Dia dos Povos Indígenas, a UFABC foi palco do evento “Afirmação de Direitos indígenas em Contextos Urbanos: O caso da região do Grande ABC”, como forma de celebrar e debater o abril indígena e as lutas da população indígena pelo reconhecimento de seus direitos – além de dar visibilidade à presença indígena na região.
Com foco na população indígena vivendo em contexto urbano, o evento trouxe importantes lideranças do movimento indígena no ABC para discutir a situação e a realidade dessa população. Organizadas a partir de uma colaboração entre os movimentos indígenas, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC (principalmente os Grupos de Trabalho Igualdade Racial e o Grupo Temático História e Memória) e a UFABC, as falas trouxeram à tona duras histórias pessoais de famílias indígenas deste território, a uma plateia composta majoritariamente por estudantes.
Segundo o coordenador do GT Igualdade Racial, Mestre Pelé, o objetivo dos organizadores foi justamente dar voz aos povos indígenas que estão vivendo na região, em contexto urbano, e resgatar a história das linhagens indígenas presentes no Grande ABCD.
“Reconhecer a população indígena em contextos urbanos é essencial para reconhecer seus direitos, mas são escassas as ações por parte do Poder Público de procurá-las, ouvi-las, saber de suas necessidades. É preciso corrigir isso.”
Para contarem suas histórias, foram convidadas a Cacica Jaqueline Haywã, professora, escritora e liderança do Povo Pataxó Hã Hã Hãe etnia Kariri Sapuya, de Ribeirão Pires; Silvia Guayaná-Muiramomi, socióloga e integrante do movimento Nhande Vae’eté ABC; e a jovem Nivia Tsinhõ Pankararu, integrante do Nhande Vae’eté ABC e articuladora da coordenação do núcleo virtual da Uneafro.
O encontro foi mediado por Kigéw Puri, mestrando em Ciências Humanas e Sociais da UFABC: “Eu sou filho do povo Puri, um povo que após 500 anos de invasão e etnocídio foi dado como extinto. Mas é um povo que resistiu e que nos últimos anos tem sido reconhecido pelo Estado. Eu sou fruto desse processo de resistência, pois o meu avô era um homem indígena do povo Puri que, por conta da pobreza, teve de migrar para o interior do Rio de Janeiro, onde nasci, e hoje estou aqui na UFABC estudando o meu povo.”
Logo no início, todos se uniram em um Toré (ritual) em homenagem a Galdino Pataxó, que foi queimado vivo em Brasília, em um triste 19 de abril de 1997.
Jaqueline Haywã, Cacica do povo Pataxó Hã Hã Hãe, estava particularmente emocionada: Galdino era seu primo: “Eu nasci em Ribeirão Pires, em 1971, a mais velha de quatro irmãos. Quando eu tinha 8 anos, minha mãe faleceu no parto da minha irmã mais nova. Meu pai se viu viúvo, com 4 filhos e sem alternativa a não ser voltar pra terra dele, pro povo Pataxó da Bahia. E de um dia pro outro minha vida mudou completamente. Em Ribeirão Pires eu tinha eletricidade, tinha TV, mas pra onde fomos era uma mata fechada, não tinha luz elétrica. Era preciso andar muito para tomar um banho, nós mesmos confeccionamos nossos pratos, nossos utensílios, fazíamos farinha na Casa de Farinha… Era uma vida muito sofrida. Principalmente porque eu nunca me vi como indígena. Eu me via como pobre. Até que um dia cheguei pra minha vó e falei ‘Vó, a gente parece com esse povo aqui do livro de História’ e ela pediu pra eu ficar quieta. Não podia falar que éramos indígenas. Naquele lugar, sul da Bahia, era extremamente perigoso se declarar indígena, até hoje, porque os Pataxós sofrem constantes ataques dos fazendeiros, inconformados com a presença indígena naquele território. Então minha avó tinha medo. Era um assunto proibido na minha família. Eu desconfiava, mas não podíamos falar sobre isso.”
A Cacica também contou que ali onde morava havia muitas mulheres de seu povo, mas eram raros os homens. Porque quase todos iam para São Paulo trabalhar. “Nos livros de História é preciso fazer uma correção: muitos que são ali chamados de retirantes nordestinos, na verdade são indígenas expulsos de suas terras,” revelou.
Sua identidade indígena de repente a atingiu com a tragédia de Galdino: “Eu voltei para Ribeirão Pires, casei, cursei três faculdades e, em 97, meu pai chegou um dia pedindo pra gente ligar a TV: era a notícia sobre a morte do Galdino, que descobrimos ser sobrinho da minha avó. E foi ali que minha avó viu parte da família dela que tinha sido perdida. Quando os fazendeiros expulsaram sua família, metade dos parentes sumiu, perdeu-se o contato. E eram os familiares do Galdino. Minha avó viu pela televisão os quatro irmãos dela e foi aí que ficamos sabendo que éramos Pataxó Hã Hã Hãe Kariri Sapuyá. No ano 2000 fiz a primeira visita à aldeia da Reserva Indígena Caramuru-Paraguassu, onde moram mais de 2.000 indígenas. É lá que mora essa parte da minha família.”
Com as pandemias e a chegada das vacinas, em 2021, ficou nítida a falta de preparo das prefeituras para lidar com a população indígena em contextos urbanos. “Os indígenas tinham direito às primeiras doses, mas eu, com certificado e tudo de que eu era indígena, não conseguia ter acesso à vacina. Falavam que era só na aldeia que podia tomar. Foi quando conheci o Conselho da Igualdade Racial e descobri que precisava estar em um movimento para conseguir meus direitos. Foi com o povo negro no Conselho que eu aprendi a lutar, ao ver pessoas sofrendo preconceito por serem de religiões de matriz africana, por serem de diferentes identidades sexuais… De indígena nem falavam, porque não tinha. Era eu só. E quando a prefeitura de Ribeirão Pires me perguntou ‘Mas quantos indígenas existem na cidade?’, eu levei a eles 25 endereços, 75 pessoas, todas da minha família Pataxó Hã Hã Hãe. A prefeitura precisou fazer um mutirão para cadastrar todos nós, reconhecendo os indígenas sem precisar a Funai mandar. Foi a primeira cidade do Brasil a fazer isso. Aí, com essa representatividade, eu precisei voltar na aldeia e perguntar se eu podia falar em nome dos Pataxós. E os caciques Pataxós falaram pra mim ‘Não só pode como deve.” Vieram três Pataxós para Ribeirão no dia desse mutirão e autenticaram todo o nosso movimento.”
A partir daí, iniciou-se um processo de ‘sair do armário’, de conscientização de familiares da Cacica Jaqueline sobre sua origem Pataxó, para se integrarem ao movimento, às palestras e manifestações. E depois do que ocorreu em Ribeirão Pires, parte da família que morava em Rio Grande da Serra se manifestou querendo ser cadastrada. Parentes de São Bernardo e Santo André também se prontificaram. Foi quando toda a família se reuniu para eleger um representante e Jaqueline foi eleita cacica por unanimidade. “A partir daí, fui às prefeituras solicitando esse cadastramento. Só em São Bernardo foi preciso dois dias para cadastrar 108 Pataxós. Em fevereiro, levei à Funai os documentos de 308 Pataxós, de toda essa região do ABC, para reconhecimento. Somos indígenas urbanos, com muito orgulho. E eu levo essas histórias fazendo palestras em escolas e outros espaços.” No fim do mês, Jaqueline será recebida pela Ministra dos Povos Indígenas, para levar ao conhecimento do Governo Federal a existência dos Pataxós do ABC. “Vou em busca de um espaço, onde todos possamos nos reunir e dançar o nosso Toré,” concluiu ela.
A trajetória de sua descoberta como indígena foi diferente para a socióloga Silvia Muiramomi, de Santo André: “A nossa história começa junto com os trilhos da ferrovia, a São Paulo Highway. E foi de lá que veio a essa chave de memória ancestral para entendermos quem éramos nesse território e qual era a nossa missão. Desde menina eu sempre soube da presença de uma avó indígena, mãe da minha mãe. Quando criança, a gente chegava pra ela e perguntava ‘Vó, de que tribo você é?’ Ela sorria e falava ‘Eu sou Tapuia’. E a gente achava graça. Ela fumava o cachimbo, o petanguá, fazia comidas indígenas, curava com ervas, com brasa quente… Mas chegava no dia 19 de abril, o antigo Dia do Índio, eu ia na frente da sala falar que minha avó era indígena e mandavam eu sentar. Não me ouviam. Eu precisei de 50 anos para entender que havia todo um pertencimento étnico.”
Segundo Silvia, foi preciso a medicina da floresta, a Ayahuasca, para que ela acordasse sua ancestralidade. E o acaso a levou a procurar um centro de consagração próximo ao território de origem de seu povo. “Era em Taiaçupeba, no caminho para Suzano. E, no caminho, eu sempre passava por uma placa que dizia ‘Subestação de Furnas Tijuco Preto’. Pois certo dia eu pedi uma certidão do meu avô português para meus primos e junto dos papéis deste meu avô veio também a certidão de nascimento da minha avó, lavrada em 1939. Lá dizia que ela havia nascido em 1910. Local de nascimento: Tijuco Preto. Essa foi a primeira chave da minha memória ancestral.”
Silvia percebeu que sua avó era nativa de Suzano e que muito provavelmente seu povo indígena teria vivido na região. Conversando com seus tios, eles disseram que, quando veio a ferrovia, a terra do povo da minha avó foi dividida em duas. Passou bem no meio. “Foi a segunda chave de memória ancestral. Descobri que a ferrovia passava em Caaguaçu e Guapituba. Era ali o território.”
E aí as coisas começaram a chegar. Na história de Suzano, Silvia descobriu os guerreiros nativos do Baruel. Na história de Santo André, a linhagem do famoso Cacique Tibiriçá. Ela foi então montando sua árvore genealógica, por meio de conversas com caciques, pajés, registros de nascimento, de batizado… “Foi aí que eu tive a certeza de que minha avó era sim indígena e veio em mim um sentimento íntimo de pertença: Eu era indígena. Eu pertencia a um povo. Eu só precisava conhecer melhor esse povo.”
Tibiriçá faz parte de toda a História de São Paulo e, segundo Silvia, ele não é sequer celebrado. “É muito difícil você entender um contexto histórico, a construção de uma sociedade, sem entender que esse território foi invadido, que as pessoas foram proibidas de se declarar indígenas, de falar sua língua, de morar em suas ocas coletivas. Tiveram que passar a usar roupas, tiveram sua espiritualidade criminalizada. E aí você entende que pertence a tudo isso. Minha avó, eu, minhas filhas. E nos impedem de fazer esse resgate porque dizem que se eu moro na cidade eu não posso ser indígena. Você é branco, pardo, caboclo, ribeirinho, mas nunca indígena. Foi quando começamos a lutar, a pesquisar, a reivindicar nossos espaços. Construindo minha árvore genealógica, quando eu cheguei no meu sétimo avô descobri que ele era filho de um casamento entre primos: um da linhagem do Cacique Tibiriçá e outro de seu irmão, o Cacique Piquerobi. Eu sentei e chorei. Aquela minha avó, trazida pelo meu avô português, que foi trancada num barracão onde se criava animais, que passou fome, que só teve o registro de nascimento lavrado quando estava grávida de 8 meses, que só teve a certidão de casamento feita para ser usada para comprar lotes de terra por valores mais baratos era uma Guayaná.”
Ao mencionar os lotes de terra, Silvia estava se referindo a uma lei de 1850, a Lei de Terras Devolutas. Um de seus artigos dizia que todo lote de terra onde houvesse um ocupante originário poderia ser sujeito à posse mansa, uma espécie de usucapião. E comprado da Coroa por um valor bem inferior. Então quando a gente ouve alguém dizer que a avó foi caçada no laço, não foi porque o português ou o brasileiro estava apaixonado por aquela indígena. Foi para ela ser usada como moeda de troca. Para baratear o custo da terra. “E muitas vezes a indígena, mesmo grávida ou com filhos, não era aceita na casa da família, tinha que viver com os animais. À custa dessa dor que as propriedades foram compradas. Então quando eu ouço meus tios falarem que não podiam entrar na casa da família portuguesa, eu entendo agora o que aconteceu. Quando minha mãe ganhou uma bolsa de estudos para poder cursar a Escola Normal e ser professora, a família portuguesa rasgou a carta. E disse que ela ia trabalhar para sustentar os irmãos.”
“Hoje, quando uma pessoa que mora no contexto urbano se reivindica indígena e enfrenta toda essa oposição, é preciso conhecer essa história. Porque é uma história de sacrifício, de violência da colonização. E quem ouve essa história, multiplica. Porque se a gente não levanta essa voz e conta como foi a violência em São Paulo, no Sul, no Nordeste, eles vão matar os Ianomâmi. Eles vão continuar invadindo as terras para garimpar e rasgando as ferrovias pelas nossas terras e dizendo que isso é o progresso. Então precisamos levantar a nossa voz e nos unir àqueles que estão aldeados.”
O censo de 2010 contava 897 mil indígenas em todo o país. O de 2023 vem indicando cerca de um milhão e seiscentos mil, quase o dobro. Grande parte deste aumento se deu pelos indígenas urbanos que se autodeclararam como tal. “Nós não viemos para ocupar o lugar dos parentes nos territórios,” explica a socióloga. “Nós viemos para afirmar que temos direitos. Direitos que o próprio povo indígena conquistou e está na Constituição, artigos 231 e 232. Respeitem os nossos direitos. Indígena é indígena em qualquer lugar. Tem direito à Saúde, à Educação, tem direito de se declarar indígena e aprender sua língua nativa. Hoje, minha filha sabe que descende da linhagem de Tibiriçá e Piquerobi, que é uma Guaianá-Muiramomi. E isso vai se reproduzir para as próximas gerações. Esse país precisa celebrar a sua Mãe indígena. Este país precisa reconhecer a escravidão indígena, o esbulho do território. Este país precisa entender que nós não somos uma só nacionalidade. Nós somos muitos povos. E vivemos aqui há mais de 15 mil anos, espalhados por mais de mil povos, e nunca cometemos nenhuma forma de genocídio uns contra os outros. E quando a gente se manifesta aqui, a gente ajuda a combater o racismo que existe contra nossos parentes.”
A jovem Nivia Pankararu, ao fazer uso da fala, destacou a importância de estar ali na presença da Cacica Jaqueline e de Silvia Muiramomi: “É impressionante o quanto elas me inspiram e me dão forças. Eu tenho muita honra de fazer parte desta luta ao lado delas e do movimento Nhande Vae’eté.”
“Meu nome é Nivia, sou Pankararu. Eu venho de uma família grande, do Nordeste – meu povo é do estado de Pernambuco – e minha história começa com minha mãe, com 17 anos, indo para São Paulo. O meu povo passou por um processo de seca e de conflitos de terra com posseiros, que invadiam o território Pankararu, nossas aldeias, inclusive a que era da minha família. E, mesmo nova, minha mãe já trabalhava na cidade, perto da nossa aldeia, onde meu avô era tocador de instrumentos nas tradições e muito reconhecido pelo meu povo. Ele apoiou a vinda da minha mãe pra SP, por acreditar que aqui ela teria mais oportunidades. Naquela época eles chegaram a passar fome e comiam café com farinha e murici (uma fruta) com farinha. Então minha mãe veio para São Paulo, primeiro para uma comunidade Pankararu ali no Morumbi, depois para Mauá, trabalhar em casa de família como babá.”
“Quando eu nasci, já em Mauá, minha mãe sempre falava que a gente era indígena, e sempre tivemos isso muito forte dentro de nós. Desde pequena que eu vou à aldeia, participo dos rituais, das tradições… Só que na cidade é diferente. A gente tem até medo de falar que é indígena. Medo na escola, de as pessoas te zoarem ou de sofrer preconceito. Então pra minha família eu sou indígena, mas pra escola eu sou só parda. Eles te colocam como parda. E eu cresci dessa forma, com o sentimento de querer fortalecer minha identidade, mas sempre com muita dificuldade nesse processo. A realidade da cidade é diferente da da aldeia e eu sentia falta de viver na aldeia como os meus primos viviam, sempre participando dos rituais, das atividades, os ritos de passagem. Era uma coisa que eu não tinha. Então passei por uma crise e me perguntei o que eu poderia fazer como uma indígena em contexto urbano, para fortalecer minha identidade. Uma identidade que é negada, escondida. O que eu poderia fazer?”
Já morando em Santo André, Nivia conheceu um parente indígena, Pedro Pankararé, que já havia ajudado indígenas urbanos de Guarulhos a se organizarem. Foi ele que a apresentou ao projeto Jovem Aprendiz Indígena, que a ajudou a entender esse contexto e fortalecer sua identidade. Mais uma vez, foi a pandemia que serviu de estopim para mobilização. “Quando indígenas chegaram na UBS para tomar vacina e a vacina foi negada, resolvemos fazer um ato na estátua de João Ramalho, fundador de Santo André. Diziam que os parentes tinham que tomar a vacina lá na aldeia, como se o indígena não pudesse viver na cidade. Foi quando percebi uma necessidade muito grande de questionar isso. Nós somos indígenas, estamos na cidade e isso não muda nossa identidade. Fizemos o ato e afirmamos nossos direitos. Foi a partir daí que cresceu o movimento indígena do ABC. O Pedro Pankararé, que já tinha passado por um processo semelhante em Guarulhos, nos deu um conselho fundamental: Achem os outros.“
Até então, era a Nivia, a Silvia e mais alguns parentes. “Começamos um grupo com umas 6 pessoas e saímos falando cada vez mais que o ABC é indígena, sempre teve e ainda tem presença indígena. E agora estamos aqui contando nossa história. Uma história de dor, como foi a da minha mãe, que até de canibal foi chamada. E isso me fez refletir muito sobre como as pessoas nos veem. Falam que os índios são preguiçosos, falam que o índio não é gente. E o que é ser gente? É destruir as matas?”
Nivia encerrou sua fala lembrando do avô e de como era a vida entre os seus: “Quando a gente ia visitar a aldeia e chegava a hora de voltar a gente falava ‘Mãe, eu não quero voltar’. Porque lá a gente era igual aos outros. Não existia o preconceito, esse sentimento de se sentir insignificante. E minha mãe falava que um dia a gente ia voltar pra morar lá. Esse é o sonho de todo indígena que sai, retornar. Eu lembro de uma vez que estávamos lá e meu avô faleceu, aquele que era tocador. Foi um acontecimento muito importante de presenciar, pois ele era uma pessoa muito reconhecida e fez de tudo para que minha mãe e meus tios não passassem fome. Em nossa cultura, a gente não reconhece a morte, dizemos que ele se encantou. Ele agora é um encantado. E eu vou sempre contar a sua história.”
“Conheçam os povos indígenas,” concluiu ela. “Nesse país temos uma diversidade muito grande de povos e línguas indígenas e estamos aqui com um movimento cada vez mais forte, ocupando esses lugares, demarcando os espaços. Isso pra gente é muito importante.”
A coordenadora da CREPPIR, concorda com Nivia. “Em Diadema, no último censo (de 2010), já tínhamos algumas dezenas de habitantes que se reconheciam indígenas,” afirmou Márcia. “O próximo censo está saindo, com números mais atualizados, mas já estamos divulgando o projeto de cadastramento do Nhande Vae’eté, em parceria com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, para agilizarmos esse processo e, principalmente, conhecer cada família e recebê-las como pessoas de direitos.”
Se você é indígena e mora em Diadema, clique aqui e preencha o cadastro.
Encontro de povos indígenas
Ainda celebrando o Abril Indígena, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC realizará mais um encontro dos povos indígenas da região. O evento, organizado pelo Grupo de Trabalho (GT) de Igualdade Racial, voltará a abordar a afirmação dos direitos indígenas em contextos urbanos.
erá mais uma oportunidade de ouvir Jaqueline Haywã, Silvia Guayaná-Muiramomi e Nivia Pankararu, desta vez acompanhadas de Som Pataxó e representantes da Comunidade indígena Pataxó Hã Hã Hãe em Pau, na Bahia. A moderação será realizada por Mestre Pelé, e o evento é aberto a todos.
Serviço:
Encontro dos Povos Indígenas do Grande ABC
Dia 4 de maio, às 18h
Local: Consórcio Intermunicipal Grande ABC
Av. Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André