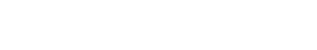1964: “O Brasil não estava à beira do comunismo”, diz historiador
Rodrigo Patto Sá Motta explica as batalhas de memória e historiográficas em torno da ditadura, caso do vídeo pró-golpe divulgado domingo passado pelo Planalto. Leia a entrevista
- Data: 04/04/2019 15:04
- Alterado: 22/08/2023 21:08
- Autor: Agência Pública
- Fonte: Thiago Domenici/Pública
O golpe militar que mergulhou o país num de seus períodos mais sombrios completa hoje 55 anos. Neste aniversário do golpe que durou de 1964 a 1985, a Pública entrevista o historiador Rodrigo Patto Sá Motta, doutor em história pela USP e professor do Departamento de História da UFMG, autor da obra Em guarda contra o perigo vermelho (2002), que aborda o anticomunismo no Brasil entre 1935/37 e 1961/64.
Patto, que também é autor de As universidades e o regime militar, faz duas provocações ao longo da conversa, a primeira: “Se o regime político instaurado em 1964 era popular e tinha apoio majoritário da população, por que diabos necessitou de mecanismos autoritários para se manter no poder?”. E a segunda: “Consideremos por um momento, apenas para construir raciocínio hipotético, que havia séria ameaça comunista e a intervenção militar visava defender a democracia contra o totalitarismo (reitero que considero tais argumentos sem fundamento). Se assim fosse, qual a justificativa, então, para terem instalado uma ditadura e se aboletarem no poder durante duas décadas? Porque não entregaram o poder aos civis depois de derrotada a “ameaça”?”.
A seguir, o historiador explica em detalhes as batalhas de memória e historiográficas em torno do golpe e da ditadura, caso do vídeo pró-golpe divulgado ontem pelo Planalto em que se descreve o período como um “tempo de medos e ameaças”, em que os “comunistas prendiam e matavam seus compatriotas”.
Segundo Rodrigo, essa batalha vai se intensificar com a ofensiva dos grupos de direita para fazer valer uma “boa memória” sobre 1964, “o que representa não apenas a defesa de um ponto de vista sobre o passado, mas a afirmação de uma imagem positiva com propósito de atribuir legitimidade a um governo comandado por militares no presente”, afirma.
Quando perguntado se vê a democracia em risco, o historiador é assertivo. “A democracia está em risco desde o impeachment de 2016, que foi uma manobra política sem fundamento legal”.
Como historiador o senhor avalia que ao negar o golpe o presidente Jair Bolsonaro tenta reinventar uma versão da história já refutada pela historiografia com provas documentais e testemunhais?
|á havia um investimento em recuperar as comemorações de 1964 em sentido positivo. Vale a pena lembrar que em novembro passado o então comandante do Exército, general Eduardo Villas Bôas, escreveu no Twitter que era preciso recuperar “a intentona comunista ocorrida há 83 anos”, sinalizando a retomada dos discursos tradicionais de que os militares salvaram o Brasil do comunismo. Grupos dentro e fora do governo vêm investindo nisso, inclusive com estratégias para alcançar público mais amplo por meio de recursos audiovisuais. As batalhas de memória e historiográficas em torno do golpe e da ditadura vão se intensificar com a ofensiva dos grupos de direita para tentar prevalecer sua “boa memória” sobre 1964, o que representa não apenas a defesa de um ponto de vista sobre o passado, mas a afirmação de uma imagem positiva com propósito de atribuir legitimidade a um governo comandado por militares no presente.
Portanto, a visão de Bolsonaro não é pessoal, ela representa a opinião média dos defensores da intervenção militar em 1964 e da ditadura. Nada surpreendente a iniciativa dele, pois manifestou tais ideias inúmeras vezes ao longo de sua carreira política, com destaque para a declaração de voto no impeachment de 2016. Ainda assim é chocante e condenável vindo de presidente que chegou ao poder pelo voto. Embora a média dos militares concorde com a visão positiva sobre 1964, a iniciativa de Bolsonaro causou certo desconforto em alguns setores, que acharam o momento inconveniente para estimular a celebração, devido à perda de popularidade e as graves dificuldades de relacionamento com o Congresso. Excelente que setores do judiciário tenham reagido e demandado respeito à democracia e à Constituição, assim como a reação de setores políticos e sociais. É importante mostrar que há forças no Brasil contrárias à ditadura, especialmente para mostrar aos interessados em novo golpe que haveria reação.
Em nota enviada sobre as “comemorações” do 31 de março, o general Azevedo, ministro da Defesa, e os comandantes das Forças Armadas, destacam que a intervenção militar ocorreu com o apoio da população e citam a Marcha com Deus e a Família. O senhor considera que de fato o golpe foi apoiado pela população? Até que ponto a Marcha pode ser vista como representativa do conjunto da sociedade?
O tema tem sido muito discutido na historiografia e não há dúvida que o golpe teve forte apoio de alguns grupos sociais, especialmente nas classes médias e superiores (o público principal das Marchas). Não é por coincidência que entre os mesmos grupos encontram-se os maiores entusiastas do impeachment de 2016 e as pessoas mais sensíveis aos discursos anticomunistas-antipetistas de hoje. Porém, é preciso deixar claro que o governo João Goulart também tinha muito apoio popular. É difícil dizer com os dados disponíveis quem tinha mais apoio às vésperas do golpe, pois ocorreu forte polarização política. Além disso, importa lembrar que a grande imprensa e outras instituições fizeram forte barragem discursiva em favor da queda de Goulart, em que mobilizaram à exaustão o tema do perigo vermelho para incrementar o clima de pânico. O certo é que ao sair dos quartéis as Forças Armadas desequilibraram a situação e promoveram a derrubada de Goulart, por isso seu papel foi essencial no golpe.
De qualquer modo, o apoio de certos segmentos da sociedade não altera o fato de que 1964 foi um golpe nas instituições e um ato autoritário. Ele apenas realça que os militares não agiram sozinhos. Por outro lado, nem todos que apoiaram a queda de Goulart desejavam uma ditadura na sequência. Foram ludibriados. Significativamente, algum tempo depois do golpe a ditadura sofria problemas sérios por perda de popularidade. Muitos dos que bateram palmas em 1964, em 1968 clamavam contra o autoritarismo nas ruas. Portanto, o apoio à ditadura variou muito ao longo do tempo, embora os instrumentos para medir isso sejam precários (as eleições eram controladas, candidatos podiam ser presos ou cassados às vésperas do pleito, uma parte do eleitorado boicotava por não acreditar no processo; a propaganda eleitoral era cerceada).
Vou propor uma questão que ajuda a pensar criticamente o tema do apoio social ao regime autoritário; ao mesmo tempo, a pergunta pode ser esclarecedora quanto à existência de ditadura, que alguns insistem em negar. Se o regime político instaurado em 1964 era popular e tinha apoio majoritário da população, por que diabos necessitou de mecanismos autoritários para se manter no poder? Ora, a ditadura foi instaurada exatamente para impor à população determinados governantes, que não teriam respaldo caso ocorressem eleições livres.
O argumento mais forte dos que negam a ditadura é que ela manteve eleições regulares para vereadores, deputados, senadores e prefeitos de algumas cidades. No entanto, como já disse, a dinâmica eleitoral era precária, pois havia constantes intervenções autoritárias, prisões, cassações; e as pessoas não podiam votar para os cargos principais, presidente, governador, prefeito da capital. O jogo eleitoral da ditadura só funcionava enquanto ela fosse a dona da bola. Nos momentos em que corria o risco de perder o controle da situação, o governo respondeu com intervenções autoritárias, como nos casos do AI-2 e do AI-5. Em suma, tratou-se de uma ditadura porque os militares e seus aliados civis controlavam firmemente o poder e não permitiam à oposição chances reais de virar o jogo.
Estamos completando 55 anos do golpe militar. O golpe de 1964 pode ser definido mais como um movimento anti-reformista ou está mais para um movimento anti-comunista/esquerdista? Como você avalia o início desse processo a partir das suas pesquisas?
A tradição anticomunista tem servido para expressar o medo de alguns grupos sociais com relação a processos de transformação social e cultural, ou seja, ela serve para consolidar e expressar sentimentos conservadores em relação a valores morais e religiosos e às hierarquias sociais tradicionais. Em outras palavras, o perigo vermelho expressa temores que ultrapassam os objetivos e a força real dos comunistas, servindo para expressar o medo de que as classes populares e os setores excluídos (negros) ascendam socialmente e com isso questionem as hierarquias.
Além disso, o “comunismo” é representado como foco originador de mudanças de comportamento moral e religioso, ou seja, a sua imagem é manipulada de modo a servir de fonte para “males” de todo tipo. É certo que os comunistas históricos defendiam a revolução para estabelecer igualdade social e questionavam os valores morais religiosos, no entanto, isso não significa que todo projeto de mudança social e comportamental seja comunista. Existe uma estratégia discursiva de generalizar o rótulo comunista para aumentar a gravidade ou a sensação de perigo em relação a certas mudanças sociais que incomodam a opinião conservadora. E essa sensação de medo e insegurança pode estimular muitas pessoas a aceitarem intervenções autoritárias.
Os discursos centrais que sustentaram a intervenção militar em 1964 foram calcados no anticomunismo, essa foi a linguagem dominante do golpe. Porém, o alvo era a esquerda de uma maneira geral, bem como as lideranças sociais que demandavam reformas. O uso do anticomunismo, tal como hoje, devia-se à força de uma tradição que já demonstrara grande potencial de mobilização (como em 1935-37 e 1946-48). Então, era mais conveniente fazer campanha contra os comunistas e os “vermelhos” do que dizer que o governo João Goulart era considerado ameaçador por outras razões, menos “dramáticas”.
Os grupos que apoiaram o golpe de 1964 agiram devido a diferentes motivações, entre elas: insatisfação com a sensação de crise econômica (principalmente inflação), insegurança por causa das mobilizações sociais por reformas, desconforto diante do protagonismo político de grupos populares demandando direitos, desconfianças quanto à capacidade de liderança de Goulart, medo de que ele desejasse ser um ditador ao estilo de Getúlio Vargas, medo da ação dos revolucionários e dos comunistas, discordância quanto ao intervencionismo estatal na economia.
O único ponto que permitia unir esses grupos era a bandeira anticomunista, por isso a centralidade desse tema (aliás, isso explica também porque o anticomunismo voltou a ser usado com força recentemente). A questão das reformas, especialmente a reforma agrária desagradava aos mais conservadores, os fazendeiros sobretudo, mas não era um problema para os militares e para os industriais. O governo norte-americano tampouco era contra algumas reformas. Para estes grupos poderia ser feita uma reforma agrária, mas desde que não fortalecesse os grupos de esquerda. Daí que uma postura de puro antireformismo não iria unificar um arco tão diversificado de forças políticas. Nesse sentido, podemos dizer que o golpe de 1964 foi essencialmente anticomunista, no plano discursivo, enquanto na prática era mais propriamente antiesquerdista.
O que você diria para os que argumentam que o golpe evitou que o país caminhasse para o comunismo? Afinal, o Brasil estava à beira do comunismo?
O Brasil não estava à beira do comunismo. É correto dizer que muitos atores da época acreditaram existir uma ameaça vermelha, mas, com frequência, não tinham visão clara sobre o significado de comunismo, às vezes confundiam-no vagamente com qualquer proposta de esquerda ou mesmo tentativa de reforma social (semelhante ao que vemos hoje, aliás). No entanto, muitas lideranças sabiam perfeitamente que o comunismo não estava no horizonte, mas manipularam o medo para engrossar a oposição ao governo Goulart.
O cenário possível para o governo Goulart era fazer as reformas sociais prometidas, especialmente a agrária e a política. Isso poderia levar ao fortalecimento da esquerda, mas era muito improvável que a rota terminasse no comunismo. Goulart, obviamente, não concordaria com qualquer forma de socialismo, já que era grande proprietário, e o mesmo pode ser dito das principais forças políticas que o apoiavam, entre as quais os comunistas eram francamente minoritários. Goulart fez alianças com os comunistas, mas havia desconfiança mútuas e ele não entregou-lhes posições de poder relevantes. Além disso, pesquisas de opinião indicavam que os comunistas tinham escasso apoio popular – e que ao contrário, o anticomunismo, era bastante forte e enraizado –, de modo que é difícil imaginar como eles ganhariam sustentação para conquistar o poder. Enfim, o país não estava à beira do comunismo. O golpe não derrubou um governo que preparava transição para o comunismo, ou para qualquer forma de socialismo, e sim um governo moderadamente reformista.
Gostaria de esclarecer um ponto importante: dizer que na época muitas pessoas acreditavam na ameaça vermelha é uma coisa. É um argumento de análise relevante para compreender decisões tomadas por alguns líderes e a recepção social que tiveram. Entretanto, algo bem diferente é continuar pensando assim hoje, diante do que sabemos sobre a história. Depois do golpe, e das devassas que ele fez, muitos líderes golpistas disseram que havia exagero nas avaliações anteriores, ou seja, o perigo comunista havia sido insuflado. Não é sem motivo que a ditadura passou logo a investir no tema da caça aos corruptos, pois os alvos “comunistas” não sustentavam por muito tempo a campanha de autolegitimação do novo regime.
Gostaria de fazer um comentário provocativo, pensando no diálogo com quem aceita a versão favorável ao golpe. Consideremos por um momento, apenas para construir raciocínio hipotético, que havia séria ameaça comunista e a intervenção militar visava defender a democracia contra o totalitarismo (reitero que considero tais argumentos sem fundamento). Se assim fosse, qual a justificativa, então, para terem instalado uma ditadura e se aboletarem no poder durante duas décadas? Porque não entregaram o poder aos civis depois de derrotada a “ameaça”? Não vale dizer que era para continuar defendendo o Brasil do comunismo, porque os poucos comunistas existentes estavam presos, exilados ou escondidos. Mas, alguém poderia perguntar: e a luta armada do fim dos anos 1960? Não era necessária uma ditadura para responder a esse desafio? Em primeiro lugar, as ações armadas em grande medida foram uma resposta da esquerda derrotada em 1964 ao poder da ditadura. Quer dizer, a derrubada de Goulart e a construção de uma ditadura de direita estimularam a radicalização da esquerda. Em segundo lugar, nem todos os guerrilheiros eram comunistas, muitos eram na verdade nacionalistas radicais. Terceiro, e mais importante. Não era necessária uma ditadura e toda aquela violência extralegal (tortura, assassinatos, desaparecimentos) para derrotar a luta armada. Outros países enfrentaram situações semelhantes sem descambarem para a ditadura. Como disse há alguns anos um militar que conhecia o assunto, eles construíram um martelo pilão para matar uma mosca.
Em um de seus livros você avalia que o Brasil viveu três grandes ondas anticomunistas. E numa entrevista ao Estadão argumenta que pode ser que estejamos testemunhando a quarta onda. Poderia explicar a conjuntura que levou e quem faz parte dessa quarta onda anticomunista? Por que isso está acontecendo agora?
Primeiro gostaria de fazer uma defesa do uso da metáfora da onda. A rapidez como a influência direitista cresceu entre 2013 e 2016 é compatível com a imagem de onda, de maneira semelhante a 1935-37 e 1961-64. Mas isso não significa que a onda surgiu do nada. A metáfora sugere uma situação em que há marolas relativamente calmas (os militantes dos grupos de direita que estão sempre presentes, embora invariavelmente minoritários), ou seja, o mar está sempre em movimento, porém, a certa altura surge uma confluência de fatores a provocarem crises e tempestades.
São muitos os elementos que ajudam a entender essa onda ou guinada anticomunista. Um dos pontos é a reação aos governos de centro-esquerda que comandaram o país durante aproximadamente 13 anos, durante esse período colecionando inimigos e detratores. Os grupos que partilham a sensibilidade conservadora jamais aceitaram inteiramente os governos petistas, alguns deles apenas os toleraram nos momentos favoráveis, especialmente quando a economia crescia a elevadas taxas. Quando a crise econômica se instalou em 2014 as razões para tolerância desapareceram, aumentando o mal humor de muitas pessoas em relação ao governo. Há que mencionar também o impacto das acusações de corrupção contra os governos petistas, sobretudo os casos produzidos pela Lava Jato, que tiveram notável incidência entre a opinião mais à direita do espectro político.
Portanto, o crescimento da direita foi uma resposta aos governos petistas. Eles não foram radicais e tampouco seguiram uma pauta socialista, porém, algumas de suas políticas afrontaram valores da direita conservadora e da liberal, como o aumento do intervencionismo estatal, a implantação de bolsas e cotas sociais, os programas visando a igualdade de gênero e racial, bem como as políticas em defesa das minorias sexuais. Um aspecto importante aqui é a reação dos setores religiosos contra a pauta de mudanças no campo dos valores e da moral, que afetou setores integristas católicos, mas, principalmente os grupos evangélicos, que são bem representados no sistema político. Daí o discurso de defesa da família tradicional e da religião contra o “comunismo”.
Outro tema fundamental: as ações governamentais no campo da justiça de transição referida à ditadura, por moderadas que fossem, provocaram o descontentamento de segmentos militares que igualmente se embandeiraram em torno das palavras de ordem antiesquerdista. Alie-se a isso o incômodo provocado à direita pela orientação diplomática dos governos petistas, moderadamente distantes dos EUA e tendendo à busca de novos parceiros e ao fortalecimento do multilateralismo, ao lado do temor que a simpatia pelo regime chavista poderia trazer implicações internas ao Brasil. Mais um aspecto importante, que afetou a largos setores sociais foi o impacto da criminalidade comum, ou seja, o medo em relação à insegurança pública. Discursos direitistas acusaram os governos de esquerda de conivência com os criminosos comuns e convenceram alguns grupos sociais de que somente o aumento do autoritarismo estatal traria resposta à insegurança do dia a dia.
Enfim, no período entre 2013-2015 surgiram condições propícias ao crescimento da opinião de direita, o que catapultou ao poder gurus, líderes e pequenos grupos de militantes que desde os anos 1990 vinham labutando por um (re)despertar conservador e/ou liberal no Brasil, o que àquela altura parecia improvável. A insistência desses grupos em utilizar o discurso anticomunista é tanto fruto de convicção como de oportunismo, por razões que penso ter já esclarecido.
Não é incomum ver declarações que dizem que a história tem sido contada com matiz ideológico socialista. O presidente já falou a respeito, o próprio filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, publicou mensagens em que afirma que a ditadura militar é mal retratada pelos livros didáticos. “Um povo sem memória é um povo sem cultura, fraco. Se continuarmos no nosso marasmo os livros escolares seguirão botando assassinos como heróis e militares como facínoras.” Também o general da reserva Aléssio Ribeiro Souto também já declarou que “Os livros de história que não tragam a verdade sobre 64 precisam ser eliminados”. Estamos passando por uma tentativa de revisionismo? Em que medida o revisionismo se torna perigoso para o registro dos acontecimentos históricos?
Ele é perigoso quando tem intencionalidade política, como no presente caso. Mostrar uma ditadura positiva para o Brasil e esconder o autoritarismo e a violência que ela significou pode passar à população a imagem de que não seria problema termos outra ditadura.
Revisar o conhecimento e questionar o saber já estabelecido é um movimento positivo, que faz parte do progresso de qualquer forma de ciência ou saber acadêmico. O problema é quando isso se faz sem consistência metodológica, sem evidências, sem provas, com base apenas na paixão política. Critica-se a influência de ideologias de esquerda sobre o conhecimento produzido, mas a resposta traz uma “ideologização” à direita muito mais intensa.
Não é que exista conhecimento puramente objetivo, ou seja, sem qualquer influência do fator subjetivo (as opiniões do autor do conhecimento). Mas a meta do conhecimento acadêmico é lidar com o subjetivismo de maneira produtiva, evitando que leve a distorções ou, o que acontece em alguns casos, a falsificações. Uma das estratégias para enfrentar esses dilemas é o diálogo intersubjetivo, ou seja, o debate com as diferentes visões ou argumentos sobre determinado tema, o que significa levá-los a sério. É o que tento fazer.
O “perigo vermelho” é utilizado como argumento de convencimento da opinião pública em diferentes momentos históricos. Houve um tempo em que Cuba, China e União Soviética eram o modelo a ser negado e combatido. Mais recentemente, a Venezuela. São argumentos que voltam à baila com frequência, seja em momentos eleitorais ou processos de crise política. Como a história pode dar conta dessas comparações e percepções calcadas em realidades pouco concretas? Além disso, até que ponto a história falhou – se é que falhou – em educar a população para um conhecimento histórico mais robusto sobre o que aconteceu com o Brasil nesses períodos? A Lei da Anistia do jeito que foi configurada influenciou a forma como a mensagem chega ao povo?
O tema da ameaça estrangeira é parte essencial da tradição anticomunista. E outros discursos políticos (inclusive de esquerda) batem na mesma tecla. Os imaginários que mobilizam o medo são tentados a explorar o tema do estrangeiro ameaçador (imigrantes, espiões, governos estrangeiros), pois isso toca sentimentos profundos, baseados na ansiedade em relação ao diferente, ao outro, e essa operação gera bons resultados políticos. Diga-se que normalmente são entes concretos, como a URSS, que de fato criou um modelo social radicalmente diferente, no entanto, são fantasiosos muitos dos discursos políticos construídos a partir disso. No caso da Venezuela, por exemplo, como acreditar que o bolivarianismo representa uma ameaça ao Brasil, tanto mais quando Lula e Dilma respeitaram rigorosamente a Constituição e jamais propuseram mudanças no nosso sistema político?
Sobre o ensino, é importante não exagerar o impacto do sistema escolar, porque a escola não tem tanto poder. Creio que são exageradas as críticas ao sistema escolar e aos professores de história, responsabilizados pela ignorância de largos setores da sociedade sobre temas básicos como nazismo, ditadura etc. A história e o gosto por ela não se aprendem apenas na escola, mas também em outras instituições culturais, a mídia e a própria família. Ou seja, a cultura histórica e a consciência histórica de uma determinada sociedade não são formadas apenas pela história acadêmica, embora ela tenha o papel mais importante no processo. Se há um fracasso é de todos nós, historiadores, professores, jornalistas, governantes, líderes políticos etc.
Feita a ressalva, acho que o ensino da história da ditadura deve ser repensado, assim como o papel das universidades e das lideranças acadêmicas. Há que refletir sobre algumas possibilidades, como uma maior ênfase no ensino escolar da história recente, sem descuidar das outras áreas, porém, de olho na luta pela democracia. Não se trata de ensinar as crianças a seguirem tal ou qual cartilha, mas a analisarem a nossa experiência histórica coletiva em tom crítico, estimulando-as a fazerem escolhas conscientes e orientadas por suas convicções e interesses. Mesmo assim, alguns valores deveriam fazer parte dessa pauta, como direitos humanos, democracia e pluralismo. Importante também que mais historiadores se deem conta da importância de cuidar da divulgação pública do conhecimento, com mais atenção ao papel das diferentes mídias.
Sobre o tema da lei de Anistia, para responder à questão proponho pensar o impacto da transição para saída da ditadura de maneira mais ampla. Como é sabido, no Brasil o fim da ditadura foi marcado por negociações. Embora as oposições tenham lutado e resistido, em essência o grupo dominante negociou uma saída suave do poder, que passava pela anistia dos presos políticos, mas, principalmente, pela expectativa de que os crimes da ditadura seriam esquecidos. Que fique claro, não se tratou de negociação simétrica (pois a ditadura mantinha o poder e a força das armas) nem consensual. Uma parte da oposição não gostou do esquema e tentou outra saída, mas prevaleceu o arranjo entre segmentos da ditadura e partes da oposição, que realizaram uma grande acomodação de interesses, em nome da estabilidade e para evitar rupturas mais radicais (que colocassem em risco tais interesses), algo tradicional no Brasil.
Essa acomodação implicou também ações para apaziguar a memória sobre a ditadura, na verdade, tentou-se esquecer a ditadura. Por isso, os governos pós-autoritários nada fizeram para educar a população sobre o período anterior e a importância da conquista da democracia. A situação mudou a partir do governo Lula, ainda assim, de maneira tímida. É significativo que a Comissão da Verdade surgiu apenas 30 anos depois da ditadura. Enfim, a nossa transição democrática foi capenga e não enfrentou devidamente o legado da ditadura. Estamos pagando o preço agora.
O senhor vê a democracia em risco? Como tem analisado os primeiros meses do governo do presidente Jair Bolsonaro e a atuação da ala militar do governo?
A democracia está em risco desde o impeachment de 2016, que foi uma manobra política sem fundamento legal. Seguiu-se formalmente o rito constitucional, mas o processo não tinha substância, pois não se conseguiu provar que a presidente afastada cometeu crime de responsabilidade. As instituições aceitaram uma série de manipulações, inclusive do sistema legal, para criar condições políticas para o afastamento de Dilma. A partir daí abriu-se caminho para o desrespeito em série de normas institucionais, assim como se fortaleceram no debate público grupos autoritários que defendem a afirmação de suas ideias por qualquer meio. A eleição de Bolsonaro aumentou os temores, não apenas por seu perfil, mas por se apoiar nas Forças Armadas. Desde o princípio estamos sob o risco de intervenção autoritária, seja porque o presidente não demonstra intenção real de governar respeitando o Congresso, seja porque os militares poderiam impor um regime autoritário em caso de fracasso do governo Bolsonaro. Há quem imagine mesmo que o objetivo é sabotar as relações com o Congresso, aumentar a tensão política e social e, com isso, abrir caminho para um golpe clássico.
Mas há obstáculos no caminho de uma saída golpista. Alguns líderes do Congresso estão reagindo ao governo, este perde popularidade rapidamente (o que seria uma das fontes para sustentar uma ditadura), o ambiente internacional não é favorável a ditaduras (veja-se a postura recente de Piñera no Chile, que é de direita mas criticou a ditadura), hoje seria mais difícil estabilizar um regime autoritário (como censurar ideias e comportamentos da juventude conectada ao mundo virtual?) e os militares não mostram sinais claros de que topariam a aventura.
O fator militar voltou a ser decisivo na nossa vida política, infelizmente. Esperemos que as lideranças militares não aceitem o caminho da aventura golpista e sejam mais perspicazes politicamente que outros setores do governo. Se não por amor à democracia, ao menos por cálculo estratégico, pois uma nova ditadura poderia comprometer seriamente o futuro da corporação militar. Esperemos também que as lideranças sociais e políticas mostrem com clareza que os apoiadores de ditaduras são minoritários.